Eu me olho no espelho do banheiro, aquele que tem uma rachadura fina no canto inferior esquerdo, como uma cicatriz que ninguém vê, mas que eu conheço de cor. A torneira pinga: ploc, ploc, ploc. Na prateleira, há um único luxo novo em semanas: um batom vermelho mate, comprado em parcelas, como quase tudo neste país.
Eu não preciso, eu sei. Mas eu o abri mesmo assim. E enquanto deslizo sobre a boca, penso em algo que li uma vez: a economia do batom.
A teoria diz, mais ou menos, que quando a economia vai mal, as pessoas param de comprar carros, eletrodomésticos, viagens, mas continuam comprando pequenas coisas que as façam sentir vivas: uma perfume, um esmalte, um batom. Não é frivolidade. É resistência.
E eu estou resistindo, parada diante deste espelho, com o salário pulverizado, os preços mudando como se tivessem ansiedade e aquele medo suave que nunca vai embora: o de não saber o que vai acontecer amanhã.
Parece incrível, mas o batom não é uma invenção moderna nem uma estratégia de marketing.
Na Mesopotâmia antiga, há mais de cinco mil anos, já se trituravam pedras semipreciosas para tingir os lábios. No Antigo Egito, Cleópatra se pintava com uma mistura de insetos triturados, óxido de ferro e substâncias que hoje nos dariam pânico. Era tóxico, sim. Mas era símbolo de status, de poder, de identidade.
Depois vieram séculos onde pintar os lábios era pecado, sinal de prostituição ou de feitiçaria. Na Europa, foi proibido, na Inglaterra até havia leis que anulavam casamentos se uma mulher tivesse "enganado" um homem usando cosméticos.
O primeiro batom moderno como o conhecemos apareceu no final do século XIX, na França, graças a um perfumista chamado Maurice Levy, que em 1884 apresentou na Exposição Universal de Amsterdã uma barra sólida de cor dentro de um pequeno tubo metálico. Não se chamava ainda "batom": era conhecido como stylo d’amour, lápis do amor. Não era glamouroso nem massivo, mas foi aí que tudo começou, o objeto que depois entraria em bolsas, mochilas e bolsos de milhões de mulheres em todo o mundo.
Hoje, mais de cem anos depois, eu me pinto os lábios em um apartamento alugado na Argentina, no pleno 2026, enquanto penso em como pagar a SUBE, o aluguel, o cartão e a comida.
Este país sempre foi um laboratório de crises.
A minha avó ainda lembra da hiperinflação de 1989 como se tivesse sido ontem. Não era apenas que tudo aumentava: era que o dinheiro se tornava inútil. Os preços subiam mais de 50% por mês, a inflação anual superou 3000%, e as pessoas recebiam e corriam para o supermercado antes que os preços fossem reajustados novamente.
O austral —nossa moeda da época— já não servia nem para confiar. Era emitido sem lastro, não havia dólares, a economia estava quebrada. Houve saques, distúrbios, fome real. Alfonsín não conseguiu terminar seu mandato e entregou o poder antes do tempo.
Mas mesmo nesse contexto, minha avó conta que algumas mulheres continuavam comprando cremes, esmaltes, batons. Não para se mostrar. Para não desistir.
Eu era criança em 2001, mas a lembrança é mais forte do que muitas coisas que vivi quando adulta.
No dia 19 de dezembro decretaram o estado de sítio. No dia 20, o país saiu às ruas com panelas, raiva, fome e desespero. Houve repressão, mortes, saques. De la Rúa saiu de helicóptero como uma postal de derrota nacional. Em poucos dias passaram cinco presidentes. Tudo era uma desordem sem forma.
Meus pais escondiam dinheiro em frascos, choravam baixo, e mesmo assim, uma tarde minha mãe voltou do centro com um batom baratíssimo, comprado em uma farmácia quase vazia.
— Para me lembrar que continuo sendo eu —disse.
Isso é a economia do batom em sua versão argentina: quando o país pega fogo, procuramos pequenas certezas em objetos mínimos.
Em 2026 voltamos a ouvir a expressão "tempos difíceis" como se fosse uma marca registrada. Inflação, dívida, cortes, reformas, raiva, incerteza. Tudo parece transitório, mas a transitoriedade se tornou permanente.
E eu, no meio desse barulho, me pinto os lábios.
Não é uma coreografia íntima, não é uma pose. É um gesto pequeno, cotidiano, quase infantil, mas profundamente humano. Pintar-se é marcar território sobre o próprio corpo quando todo o resto é alheio: a economia, a política, o preço do pão, o futuro.
Eu me pinto para sair para trabalhar, para ir à rádio, para entrevistar alguém, para caminhar pela rua. Eu me pinto até mesmo quando não vou ver ninguém. Porque me ver no espelho com um pouco de cor me lembra que ainda estou aqui.
A palavra "resiliência" está gastos, mas não encontro outra melhor. Resiliência é isso: a capacidade de se dobrar sem se quebrar.
O batom não resolve nada, não abaixa a inflação nem paga a luz. Mas constrói algo invisível: uma sensação de controle em meio ao caos.
Enquanto o passo sobre a boca, penso que este gesto tão simples conecta Cleópatra, minha avó em 89, minha mãe em 2001 e eu hoje. Todas em crises diferentes, com moedas diferentes, mas com a mesma necessidade de não desaparecer completamente.
Olho para mim mesma novamente. O vermelho não está perfeito, passei um pouco do limite. Eu me limpo com o dedo, desajeitada, humana.
Este espelho viu lágrimas, sorrisos, raivas, beijos que depois doeram. Viu passar governos, slogans, promessas quebradas. Não guarda dólares nem depósitos a prazo, mas guarda algo mais persistente: o hábito de seguir em frente.
Talvez a economia do batom não seja uma teoria econômica. Talvez seja apenas uma forma poética de dizer que, quando tudo desmorona, ainda escolhemos não viver em preto e branco.
E então entendo que não me pinto para agradar. Eu me pinto para me lembrar que estou aqui, que ainda posso escolher uma cor em meio a tanta sombra.
Saio do banheiro, fecho a porta. Lá fora o país ainda treme. Mas eu já me preparei. Com a única coisa que consegui comprar este mês: um pouco de vermelho para não me tornar transparente.
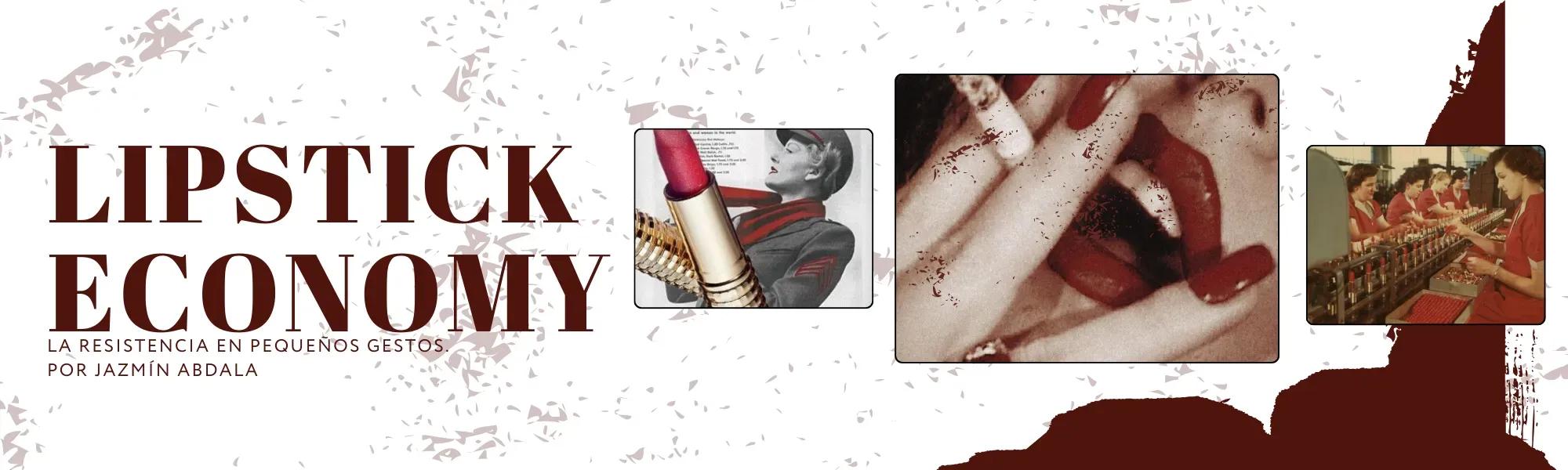
Comentários